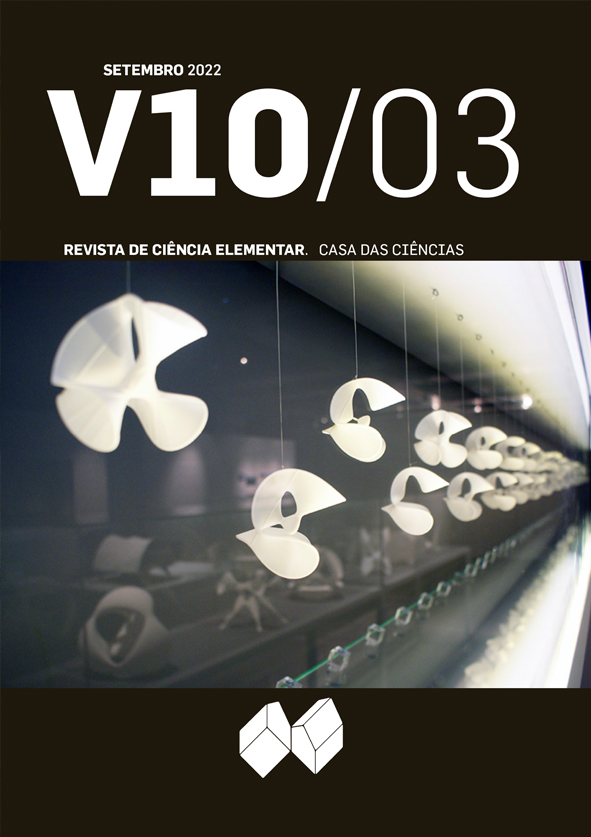Deserto, sal e água
📧
- Instituto Dom Luis/ Universidade de Lisboa
Referência Pimentel, N., (2022) Deserto, sal e água, Rev. Ciência Elem., V10(3):044
DOI http://doi.org/10.24927/rce2022.044
Palavras-chave geologia, Saara, minas de sal, crónica de viagem
Resumo
No meio do deserto do Saara há uma mina de sal. Sal que ali foi deixado há milhões de anos quando o mar cobriu o Norte de África, sal que desde há séculos é explorado artesanalmente e distribuído por toda a região. Nas minas de sal de Taoudeni, no Mali, dezenas de pessoas trabalham para escavar por baixo da areia o sal, que depois é carregado em grandes placas que albardam os camelos que ali o vão buscar. Desde há séculos, caravanas de camelos saem de Tombuctu e dirigem-se para Norte, onde recolhem o sal e o trazem de volta, num trajeto que demora duas semanas para cada lado. Esta é a origem desta cidade mítica, carregada de História e cultura, localizada no exato lugar onde o meridiano de Taoudeni interseta o Rio Níger, principal via de comunicação de toda a África Ocidental. Fui até meio caminho e voltei — 500 km de camelo, duas semanas, muito deserto e pouca água.
Para chegar a Tombuctu, o melhor é ir de barco. Da capital Bamako até Mopti ainda há uma estrada alcatroada, mas daí para Norte são caminhos de terra batida ou apenas carreiros na savana. Por isso, apanhei o barco em Mopti e durante três dias naveguei pachorrentamente entre bancos de areia, margens largas e zonas pantanosas ladeadas por dunas. O barco, uma espécie de pequeno cacilheiro, tem algumas cabines, mas a generalidade das pessoas viaja no enorme deck, onde toda a gente convive e partilha as suas coisas durante esses dias. E assim vivi esses três dias, em pleno Agosto e com temperaturas à volta dos 40 graus.
Chegado a Tombuctu, fui procurar um senhor de quem tinha ouvido falar num fórum dos inícios da Internet relacionado com os guias de bolso da Lonely Planet (bíblia incontornável para quem se aventurava por esse mundo fora, nos finais do século passado). Com ele, contratei o serviço que pretendia – uma viagem de ida e volta até Araouane (a meio caminho da mina de sal), seguindo a rota das caravanas Azalai, coisa para duas semanas no total.
Com tudo acertado, havia que preparar a viagem com alguns mantimentos e, principalmente, indumentária adequada. Para não darmos tanto nas vistas e para nos adaptarmos melhor ao calor do deserto, fomos a um alfaiate local para nos fazer um fato de touareg - calças largas e casaco de mangas compridas, tudo de algodão leve e côr azul forte. E um turbante, uma longa faixa de 3 metros, que aprendemos a enrolar na cabeça, pescoço e ombros, deixando apenas os olhos visíveis. Foi nesses preparos que nos lançámos à aventura, três pessoas (incluindo o guia) e três camelos, todos azuis e entusiasmados (FIGURA 1).

Nos primeiros dias tudo é novidade, o deserto com alguns arbustos e erva rasa aqui e ali, o enorme desconforto do camelo durante horas a fio, a paragem a meio do dia para o arroz e uma sesta, e o adormecer exausto sob as estrelas. Aos poucos, a vegetação esparsa começa a desaparecer e começamos a entrar no grand desert, apenas dunas de areia sem fim e um pequeno arbusto espinhoso de tantos em tantos quilómetros.
Entrados no deserto puro e duro, as coisas começam a ser mais fortes. Olhar tudo à volta e nada mais ver senão areia, é uma sensação talvez comparável à de uma barcaça à deriva no mar alto. E calor, muito calor, de que à hora de almoço tentávamos fugir, depois de fazermos um chá e comer arroz cozido num fogareiro (FIGURA 2). Para dormir uma sesta, procurávamos um dos raros arbustos para estender um pano e fazer alguma sombra, enrolados sob as mantas que usávamos como um casulo. Enquanto isso, os camelos vagueavam nervosos ali à volta, à procura de alguma erva… e à primeira brisa da tarde, muito suave e quente, o guia ia procurar os camelos e trazia-os para continuarmos viagem… até anoitecer. Ao jantar, sempre chá e arroz, tínhamos um extra connosco — uma noite, uma lata de ananás morno, na noite seguinte, uma lata de pasta de carne sensaborona.
A cada novo dia, ao acordar, sempre a sensação fortíssima de estar à deriva no meio do nada. Olhar à volta e ver areia, só areia, amarela a 360o, todo o horizonte uma linha só, contínua e redonda, sem nada a perturbar. E o silêncio, fortíssimo, intenso… E mais um dia de camelo, uma sesta sufocante de calor, mais umas horas, um jantar de arroz e uma noite sob as estrelas. Um dia e outro dia…
No deserto puro, os camelos, que já de si são animais muito temperamentais, começam a ficar nervosos e inseguros. Teimam em não querer andar ou em mudar de direção. Começam a andar depressa e depois param, sem se perceber porquê. No nosso trajeto, era preciso abastecê-los de água, a eles e a nós também. Para tal, no alinhamento Sul-Norte até Taoudeni, estão situadas algumas “áreas de serviço” para camelos, na realidade apenas um poço numa área baixa ao lado de uma duna, de onde se tira água com uma corda de 20- 30 metros durante todo o ano (se tiver chovido alguma coisa, nos útimos anos) (FIGURA 3).

Quando chegávamos a um desses poços, tínhamos de esperar a nossa vez – podiam lá estar umas dezenas de camelos a beber água… e tínhamos de esperar. A água era um pouco salobra, morna, deitávamos chá para disfarçar, de pouco servia… mas era o que havia…
Durante uma semana fizemos um trajeto à vista, rigorosamente Sul-Norte, mas sem bússola, GPS ou o que quer que seja. O método de navegação no deserto é simples: há que seguir para Norte, na exata bissectriz entre Nascente e Poente ou na direção da estrela polar à noite. E, quando por alguma razão atmosférica essas referências não estão visíveis, assim que se tiver de novo noção da direção a tomar, basta corrigir em igual tempo e em igual desvio angular (contrário), até retomar o rumo certo. E a partir daí, com tudo já devidamente compensado, continuar para Norte.

Assim andámos uma semana de camelo, seis horas de manhã e outras seis ao final da tarde, a um ritmo de 4kms/ hora… 250 km para lá e depois outros tantos para cá. Seria como ir de Lisboa a Faro e voltar, de camelo, com saída a 1 e volta a 15 de Agosto. Ao fim de 6 dias chegámos a Araouane, uma aldeia no meio do nada, uns vinte casebres feitos de adobe, com meia dúzia de árvores espinhosas e um posto de rádio (FIGURA 4). Fomos recebidos com enorme espanto e simpatia, toda a gente nos veio cumprimentar e tivemos direito a uma canja de galinha que nos soube pela vida! Pernoitámos num desses casebres, com direito a colchão e almofada, mas no dia seguinte tínhamos de voltar. À despedida, a senhora da casa ofereceu-nos um pequeno presente, dois pequenos seixos rolados, do tamanho de uma amêndoa, objetos raros num deserto de areia e mais areia.
A volta para Tombuctu foi, naturalmente, mais tranquila. A cada noite, a sensação de estarmos sós no mundo, no deserto, sem nada nem ninguém, era extraordinária. Passar dias e dias sem ver outras pessoas, sem ver carros ou casas, sem horas, sem objetos ou esquinas para olhar, sem quaisquer acontecimentos, é de uma pureza sonora e visual inexplicável… e roça a meditação, suponho eu (que nunca fiz tal coisa). Quando conseguimos isso uns minutos, na cidade ou no campo, já nos parece muito. Imagine-se agora dias e horas, sem nada para ver ou ouvir, para além de três camelos e três pessoas a deslizar no deserto.

Na última noite, sentindo o fim daquela aventura, chorámos sem saber porquê. Porque tínhamos passado por aquilo, porque foram sensações únicas, porque íamos deixar para trás aquele extraordinário deserto que tanta coisa nos deu. Chegados a Tombuctu, o nosso contacto recebeu-nos em lágrimas, ansioso por nos voltar a ver. Recebeu-nos na casa dele, uma moradia de adobe com pátio e terraço e ofereceu-nos um banho, antes de tudo o mais. Pediu à sua pequena filha que nos arranjasse ali na sala “un bain de 20 littres”, expressão que lhe iluminou a cara e que prontamente executou. Quando nos viu saír lá do recanto da sala, banhados e sorridentes, perguntou-nos: “et vous, chez vous, combien de littres c’est votre bain?”. Não consegui responder, mas aquela pergunta ingénua ficou comigo para sempre e vem-me à memória centenas de vezes quando abro uma torneira para beber água ou ligo o duche para tomar banho.
Esta foi seguramente a experiência pessoal mais forte de que me recordo. A pureza do deserto e a força que tem de nos remeter a nós mesmos, é algo inesquecível, não como memória, mas como marca para tudo. O modo como sinto a água, o tempo, a distância, o conforto ou a abundância de um frigorífico, tudo ficou marcado por essa travessia do deserto. Até hoje, em que aqueles dois seixos estão pousados numa pequena tigela na minha casa na Graça, com vista para o casario de Lisboa.
Este artigo já foi visualizado 6355 vezes.